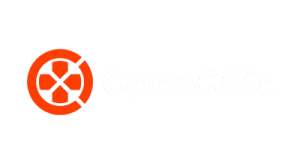“Feliz é o país sem passado” – palavras ousadas que We Happy Few (PC, Xbox One, PlayStation 4) decidiu usar para abrir um diálogo. Vinte e tantas horas depois, tenho eu mesmo uma palavra ousada para descrever o game da Compulsion Games: “covarde”.
Tão mecanicamente conturbado quanto os quatro anos de desenvolvimento que teve, We Happy Few flerta com inúmeras ideias como um adolescente que ainda não se decidiu quanto ao próprio futuro — e, no caso do adolescente, não há nada de errado nisso — para depois (e frequentemente logo) abandoná-las. Uma hora We Happy Few quer ser um adventure em primeira pessoa e adota uma postura de linearidade; na outra ele quer voltar às raízes de geração procedural e survival, e no meio tempo aproveita para enfiar um sistema de crafting e habilidades passivas.
Você imaginaria que, pela descrição, eu poderia cogitar colocá-lo na categoria de immersive sim. Afinal, ele tem vários dos elementos que compõem um; das habilidades passivas ou ativas de Prey 2017 às diferentes metodologias de solução de problemas em Deus Ex ou Dishonored. Porém, ele parece um adolescente em sua abordagem; ele só flerta e não se dedica a nada disso. Quando ele aborda stealth como método primário para avançar em uma parte da trama, ele não faz isso de uma maneira que seja atraente ou ofereça experimentação; esconda-se em arbustos, use objetos para distrair o inimigo e avance. Situações de combate são equivalentes a um vai e vem de golpes pois não há como usar da criatividade, já que suas armas são limitadas e armadilhas são coisas raras e difíceis de serem obtidas. Isso sem contar as dezenas de bugs — como personagens que atravessam o chão, flutuam pelo ar, equipamentos que somem do inventário sem motivo aparente, etc.
Mas, sinceramente, eu não me importo tanto com bugs. Sei que alguns ainda ficam assustados com essa minha postura, mas eu realmente não ligo se um jogo ocasionalmente tem uma animação que não está tão polida, ou uma cena que tem o seu impacto moderadamente reduzido porque um personagem decidiu que era uma boa hora para se teleportar pelo mapa. Problemas acontecem e eu sei que muitos desenvolvedores dão o seu melhor para que isso seja minimizado.
De fato, prefiro muito mais a ambição de um desenvolvedor — mesmo que o custo seja alguns bugs — do que uma jogada segura. É o que me faz colocar Jurassic Park: Trespasser (recomendo a leitura da retrospectiva de Alex Connolly sobre o jogo) como um dos meus jogos mais memoráveis por conta da sua implementação de física e sistema de combate; ou rejogar Gothic — que nem suporte a mouse tem — pela ambientação. Houve um ponto em que We Happy Few tinha essa ambição, mas para mostrá-la eu preciso pegar uma máquina do tempo e te transportar para 2015, o período de anúncio do jogo.

Originalmente We Happy Few era um jogo em primeira pessoa com geração procedural de cenário e permadeath. Wellington Wells — a cidade do game — era a mesma, e você tinha de encontrar uma forma de escapar dela enquanto a sociedade entrava em colapso. Meu interesse inicial por ele veio de duas frentes: a mistura do retro-futurismo com temática de guerra, e a sensação de que ele seria que eu esperava de Sir You Are Being Hunted, o jogo da Big Robot que também continha elementos procedurais, stealth e a necessidade de se adaptar a diferentes situações, usar artimanhas ou mudar planos em questões de segundo.
Parte desses elementos, mesmo que um pouco diferentes, estão presentes na versão final de We Happy Few; o crafting voltou, a necessidade de se alimentar e beber água agora é opcional dependendo da dificuldade. São os elementos que não estavam presentes na ideia original que parecem costurados desleixadamente. Como falei, ele flerta com muitas ideias ao longo das 20 horas de campanha separadas entre três personagens, e a “cidade” de Wellington Wells — separada em distritos — sofre com esse escopo. Você tem áreas repletas de eventos, que não estavam presentes em nenhuma build de desenvolvimento ou no período de acesso antecipado, intercaladas por longos trechos de terra sem nada. Me deparava com um vilarejo ou outro com itens para crafting, dois ou três habitantes e — se você der muita sorte — quests.
Esses vilarejos apareciam na versão de acesso antecipado, mas como o restante do jogo, em menor escala. We Happy Few cresceu em tudo; o que antes era uma curta viagem para pegar um item ou criar um item necessário para sobreviver (como água) virou uma longa jornada sem razão. Não há desafios ao longo do caminho, nem pontos de interesse; é um mapa criado para ser grande por motivos de que “podemos, então faremos”.
Mas isso tudo é simplesmente a ponta do iceberg – ou melhor, o topo da ponta do iceberg – dos problemas de We Happy Few. Eles começam de verdade quando você presta atenção na história. Eu chego à conclusão de que a Compulsion Games não tem absolutamente a menor ideia de como uma sociedade funciona, ou se tem, não entende como transpor essa noção para um jogo.
Vamos começar pelo topo: A Inglaterra perdeu a Segunda Guerra Mundial e foi “dominada” pela Alemanha, e para alimentar a máquina de guerra alemã contra a União Soviética, eles forçaram os habitantes do Reino Unido a entregarem as suas crianças para serem usadas como combatentes. Os habitantes de Wellington Wells, incapazes de lidar com essa realidade, começam a tomar Joy — uma pílula que deixa todos “felizes”. Uma hora essa pílula vira quase uma obrigatoriedade para se viver nas melhores casas da cidade. “Tome seu Joy”, um dos habitantes diz para mim antes de me bater com uma panela. Levei a crer que, aliado à abertura ousada, We Happy Few se trata dos horrores da guerra, o que uma sociedade faz para “sobreviver” a ela, e o eventual controle de um governo para que esses horrores sejam coisas do passado. Errado.

Para ser honesto, eu não sei nem se We Happy Few consegue entender direito o que ele tenta dizer com Joy; os habitantes de Wellington Wells são coagidos a tomá-lo, mas ao mesmo tempo há uma certa hierarquia ou soberania na região que decide quem deve ou não deve tomar a droga. E para tomar essas decisões, algumas pessoas precisam estar sem o efeito do Joy. Um exemplo perfeito são os “doutores”, inimigos que farejam quem está sem Joy e te forçam a tomar. Quem os controla? Quem dá as ordens a eles? É um estado descentralizado? Uma ditadura? Um coletivo de moradores? Não há resposta, pois ele vai pelo caminho mais fácil: bate em quem já está no chão, nos Downers — nome dado àqueles que não tomam o Joy e por isso se lembram dos horrores da guerra — e nos três protagonistas cujos passados são carregados de traumas.
Você joga as primeiras horas com Arthur Hastings, um censor de Wellington Wells que, ao ver uma imagem de seu irmão — levado para a guerra — decide não tomar mais o seu Joy, sendo então é “expulso” de onde trabalhava e forçado a viver com os Downers. Lá ele encontra Ollie, um veterano de guerra (e outro personagem jogável) que, devido à guerra e às atrocidades cometidas tanto nela quanto fora dela, tem dificuldades de discernir o que é ou não realidade. O que a Compulsion Games faz? O usa como alívio cômico. “Haha, vamos rir do veterano que sabe lá o que ele foi obrigado a fazer na guerra por ter um amigo imaginário, vamos rir dos seus trejeitos por ser um escocês”. Dei uma bufada e deixei passar; jogos frequentemente têm dificuldade em retratar pessoas com traumas de uma maneira competente.
Como um cão que não quer abandonar o seu brinquedo favorito, We Happy Few continua a bater nessa mesma tecla e decide, na metade do caminho, que Joy não é mais uma alusão aos horrores da guerra, mas sim a todo e qualquer medicamento que poderia trazer um singelo traço de felicidade para um ser humano… e nem isso a Compulsion Games é capaz de fazer direito.
Em dado momento da história de Arthur eu me deparei com uma sidequest onde um grupo de Downers estava “enlouquecendo”. Cantavam, cantarolavam, e não agiam como os outros Downers. Após invadir a casa deles — pois o jogador tem que intervir, não é? — descobri que na realidade era só uma receita para alguma droga alucinógena feita com cogumelos. Esse comportamento, portanto, vindo de fontes não-oficiais, é dado quase como um desvio de personalidade.
Assim que saí da casa Arthur questionou: “será que as pessoas que tomam Joy sabem como é a realidade? Eles sabiam antes? E se eles pararem de tomar, eles vão conseguir discernir a realidade de novo?”.

Meus olhos e ouvidos só deviam pregar alguma peça em mim; eu não acredito que We Happy Few e a Compulsion Games foi capaz de usar a abordagem mais míope para o uso de medicamentos de uso psiquiátrico. Nessa hora eu achei que as coisas não podiam ficar piores, que eu já tinha lido e visto tudo de mais — perdoe o termo — idiota de We Happy Few. Errado! A Compulsion Games consegue piorar as coisas ainda mais.
Eu me afundei na história de Sally Boyle, que potencialmente seria a menos “agravante” de todas, por ser voltada a um conto de coragem e desafio contra as autoridades, em vista dela ter um segredo que não pode contar a ninguém.
Joy como antidepressivo? Não, a Compulsion Games desistiu de novo de seguir essa linha de pensamento. Agora é hora de voltar-se à intervenção “governamental” — que, mesmo depois de 12 horas de jogo, não ficou clara ou bem definida — e à necessidade de provar que Sally é mais forte do que ela imagina. Não há muito em quesito de história, pois várias situações carecem de contexto, como se fosse uma obrigatoriedade contratual ter “três personagens jogáveis”. Restou-me apenas aguentar seus sistemas e mecânicas rasas. Destaco, porém, a horrível quest de cruzar o mapa com uma mala e tentar desviar dos guardas de Wellington Wells. A solução mais prática? Corra, muito. Melhor do que ter que lidar com o sistema de stealth.
“Ok, agora realmente o pior já passou”. Mais uma vez eu estava errado. Ollie, o terceiro personagem jogável, e o soldado que tem stress pós-traumático que citei no começo do texto, têm uma das histórias mais insensível de todas. São mais oito ou nove horas (se você tiver a paciência de fazer as sidequests) de um protagonista que constantemente usa trejeitos, tenta ser engraçado, e entra em conflito tanto com o papel que ele tenta exercer na história — que é de contextualizar a teia governamental de Wellington Wells – quanto com sua “busca por absolvição”. A Compulsion Games falha em explicar o que de fato ocorre no alto escalão do governo e usa os momentos finais de Ollie para definir: “quem passou por trauma e usa mecanismos de enfrentamento para lidar com trauma no dia a dia é infantil”.
Joy volta a ser mais uma vez uma alusão aos antidepressivos, aqui exagerada pela sugestão de que mesmo que você não os tome — o que é o caso de Ollie — você ainda não é perfeito pois você usa algum outro mecanismo para enfrentar a realidade. Para o jogo, só aqueles que enfrentam a realidade como ela deve ser, sem nada, “na cara e na coragem”, são dignos de respeito.

A Compulsion Games conseguiu incorporar os piores exemplos de “críticas” à saúde mental. Com incapacidade de descrever o que é o Joy — se supostamente atua ou não como um mecanismo de controle governamental — pela falta de foco We Happy Few por inteiro aliados aos esteriótipos, a desenvolvedora assume comportamento daquele tipo de pessoa que vira para alguém que foi assaltado e diz “quem sabe você não devia ter saído de casa com coisa cara no bolso”, aponta para quem foi estuprado e fala “talvez se você não usasse roupas sensuais isso não aconteceria”, aponta para o pobre na favela e critica “você está aí por escolha, pois se você se esforçar bastante, você sai daí”.
Ele decide ser míope; olha para as pessoas que sofrem das dores da perda, das dores de não conseguir enfrentar o dia a dia como alguém “normal”, e diz que são fracassados, ao invés de levar em conta o contexto ou situação em que se encontram. É mais fácil, é mais prático para a massa digerir, é mais simples de interpretar e — consequentemente — propagar terríveis ideias sobre antidepressivos ou qualquer mecanismo de enfrentamento, e sedimentar ainda mais o preconceito que a sociedade tem com eles.
Todas as pessoas que eu vi serem representadas neste jogo — sejam próximas a mim ou não — têm no mínimo dez vezes mais coragem do que os roteiristas da Compulsion Games. Pois eles fazem o que está ao seu alcance no dia a dia, e não têm medo de pedir ajuda. Não tem medo de tomar o “Joy” delas, e ao contrário do que Arthur Hastings apontou, sabem muito bem como é a realidade, não esquecem dela; lutam para enfrentá-la.
We Happy Few não é um jogo mediano; é um jogo covarde, e um extremo desserviço — uma afronta — a todas as pessoas que sofrem diariamente com problemas mentais. Diferente dos habitantes de Wellington Wells, nós não temos “pílulas mágicas” que nos deixam “felizes”.
We Happy Few
Total - 2
2
Incompetente em retratar os problemas de uma sociedade que passou por um período de guerra, We Happy Few se agarra nos piores estereótipos de saúde mental para contar histórias tão confusas quanto a sua proposta (e sua execução). É covarde, e um imenso insulto a todos que sofreram trauma, e usam mecanismos de defesa ou ajuda psicoterápica para enfrentá-los.